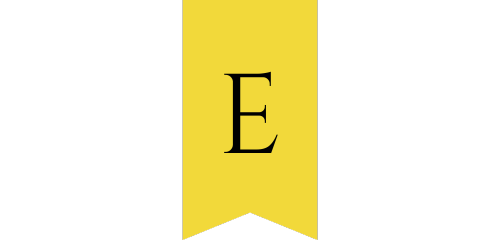Trecho do livro ainda inédito sobre o papel do jornalismo no medo social e na implementação de instrumentos de controle político
De acordo com a definição pela Associação Americana de Psicologia, a hipnose é um estado de consciência que envolve alto grau de atenção, focada especificamente sobre um ponto, criando um estado de redução da consciência periférica, isto é, reduz a atenção sobre aspectos contextuais do entorno ou elementos auxiliares ao entendimento de uma mensagem. Por isso, o estado é caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão externa direta ou indireta. A capacidade do jornalismo em gerar esse tipo de condição psicológica pode ser discutível, dado o seu caráter dispersivo. O noticiário dá uma notícia sobre a declaração do presidente da República e, em seguida, corta abruptamente para um assassinato ocorrido na esquina. Essa condição de imprevisibilidade, por si só, cria ao mesmo tempo uma redução da capacidade de concentração e um chamado a estar diante da TV. O noticiário televisivo é, de longe, o mais danoso à capacidade de discernimento. Ao deixar um tema e passar para outro instantaneamente, o telespectador é forçado a suspender qualquer crítica do objeto anterior, pois já está imerso num próximo assunto, restando da notícia precedente imagens que se integram no subconsciente como elementos imaginativos, criando um repertório cada vez mais favorável à linguagem pela qual obteve esse repertório.
Todo o efeito da longa exposição aos noticiários, sejam eles televisivos ou textuais, criam uma ansiedade informativa que reduz os elementos da realidade às fórmulas tecnicamente elaboradas do jornalismo profissional. Essa ansiedade pode ser o ambiente social e psicológico perfeito para uma histeria informativa e massiva. Será nos momentos específicos de grande comoção popular, que o jornalismo pode desejar aproveitar-se de medos e dirigir a atenção pública, já cativa das notícias e de sua linguagem, para um mesmo objeto, levando à citada perda de vista dos elementos periféricos. Há, como podemos ver, infindáveis razões para concluirmos ter sido este o fenômeno observado a partir de 2020, na pandemia de covid-19, o que culminou em decisões arbitrárias por parte de autoridades sanitárias na direção de restrições e implementação de meios de controle em grande parte irreversíveis.
Há muito tempo, especialistas se preocupam com um fenômeno chamado ansiedade informativa, que tem afetado grande parte da população acostumada ao excesso de exposição às notícias diárias. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020 pela organização sem fins lucrativos Common Sense Media, 59% dos pais americanos relataram que as notícias relacionadas à pandemia de Covid-19 estavam causando ansiedade em seus filhos. Outro estudo de 2020, realizado pelo Instituto de Psicologia da Saúde da Universidade de Liverpool descobriu que, durante a pandemia, indivíduos que consumiam muitas informações sobre o vírus relataram níveis mais altos de estresse, ansiedade e depressão. Em 2017, o Instituto Americano de Estresse descobriu que 57% dos americanos relataram que as notícias causavam estresse ou ansiedade em suas vidas diárias. Além disso, 40% das pessoas disseram que as notícias estavam afetando negativamente sua qualidade de sono. Estas últimas informações se referem a épocas anteriores à pandemia, isto é, a condição natural dos indivíduos que vivem na sociedade moderna, repleta de informações. O que atenua essa última situação era a falta de necessidade objetiva na maior parte das informações disponíveis: poucas pessoas precisam estar atentas constantemente às notícias. Mas isso mudou radicalmente no início da pandemia. Isso pode ter efeitos especialmente perturbadores quando associados a uma prática jornalística de sensacionalismo intencional, como achamos que foi o caso.
Desde os momentos iniciais da descoberta do novo coronavírus, a estrutura noticiosa obedeceu a características que já apontavam para uma campanha sensacionalista de longo prazo. Com o foco no elemento informativo, o uso de sensações de incerteza e apreensão culminaram num aproveitamento considerável que manteve altos níveis de atenção pública.
Desde o primeiro momento, os jornais se concentraram nos elementos incertos da doença, como os sintomas, e davam excessiva importância a dados como número de casos confirmados, entre outros dados quantitativos, cuja utilização só se teria justificado mediante uma conhecida gravidade da doença, o que parecia contraditório com o próprio clima de incerteza das opiniões de especialistas. Ou seja, enquanto se dizia saber muito pouco sobre a doença, a seleção das informações dava a entender se tratar de uma doença de grande interesse e preocupação, como se toda a imprensa já soubesse antecipadamente o sentido da cobertura. Essas características, somadas à uniformidade da cobertura, indicam que os jornais do mundo todo atenderam a um comando conjunto e simultâneo, já que não é próprio dos fatos naturais, espontâneos e imprevistos, uma centralização tão rápida das decisões e uniformidade das versões sobre um fenômeno e o seu modo de tratamento.
Quanto às hipóteses que possam ter concorrido para essa observada uniformização, exploraremos mais tarde, mas lanço antecipadamente que a coincidência com determinadas agendas e projetos em andamento podem ter representado importante sinal de alerta, mobilizando canais que por sua abrangência e influência tiveram papel central na determinação e extensão do comportamento da mídia. É próprio do ativista a permanente mobilização para uso narrativo de quaisquer elementos factuais que se apresentem.
Além dos aspectos referentes ao tratamento, algumas notícias falsas surgiram no momento inicial e foram rapidamente desmentidas. Um vídeo que teria “vazado” da China mostrava pessoas caindo pelo chão, supostamente morrendo na rua da nova doença. O efeito psicológico é evidente em um momento de incerteza informativa. Terrorismo midiático. Na mesma época, começou a circular uma notícia de que uma portadora do novo coronavírus atacou e mordeu um enfermeiro. Rapidamente desmentido por agências de fact-checking, essa notícia remete imediatamente às “epidemias” cinematográficas de zumbis. Proposital ou não, o fato é que esse boato desempenhou uma função de indicar ao público como que uma categoria à qual a pandemia pertencia: a de emergência mundial semelhante à ficção. Essa indicação de “categoria”, que age de modo subliminar, amplia a atenção e o interesse do público para acompanhar as notícias sobre a nova doença misteriosa. A mensagem é de que todos querem estar informados sobre essa nova “série”, novo acontecimento coletivo do qual todos fazem parte. A mobilização informativa pode ser atingida por diversas técnicas e demonstram a intenção de acomodar, depois das informações, um novo conjunto de crenças e comportamentos.
As fases iniciais de uma cobertura são marcadas pela informação, mesmo que aparentemente. Isso só indica que o discurso informativo é a forma pela qual é disseminada uma narrativa, criando a partir de fatos um repertório imaginário sobre o qual se vai, depois, dar o sentido mais específico. Como na agenda-setting, a primeira fase, a de objeto, tem função de sugerir o tema e preencher com verossimilhança prévia a narrativa que está por vir. É na fase informativa que se cria e alimenta o anseio por novidades sobre algo antes desconhecido. Se no mundo do consumo, a necessidade objetiva de comida pode ser substituída pelo desejo de certos produtos não necessários, mas sugeridos, na informação ocorre o mesmo. O público pode facilmente ser empurrado para um foco de atenção cujo interesse foi totalmente sugerido por estímulos psicológicos, assim como a escolha de um evento para compor a manchete do jornal dita ao leitor o fato e o ângulo sobre o qual deve dar importância.
O clima de incerteza, efeito da fase informativa, deixou o público cativo, dependente de novas informações e submetido ao que viesse preencher esse vazio. Embora o estado de incerteza seja a condição natural do homem, durante a pandemia isso foi esquecido graças à possibilidade de tornar o estado de dúvida especialmente desconfortável e até insuportável. A exploração de todos os tipos de novidade, novos sintomas, novos casos, novas opiniões ou estudos, ampliaram o clima de incerteza e dependência informativa induzida pela falsa sensação de que o tema necessitava de atenção. O fluxo noticioso, que é dispersivo por natureza, experimentou na pandemia o efeito inverso: o de concentrar toda a atenção em um único tema, criando todas as condições para que uma parcela relevante da sociedade se visse absolutamente hipnotizada. Essa condição foi gerada pela simples onipresença do tema nos noticiários por meio da permanente cobertura.
Todas essas condições geraram um ambiente social propício e receptivo a pressões para ações políticas e decisões centralizadas. Quando o medo e a incerteza alcançam um nível relativamente alto, a situação parece exigir que se salte por cima de reflexões, debates ou quaisquer decisões que exijam paciência ou cautela. A demanda por ações enérgicas e apressadas cede ao anseio pelo alívio imediato da tensão. Na pandemia, essa condição foi propositalmente gerada e alimentada para que decisões específicas fossem tomadas e aceitas facilmente. Hoje não há mais dúvidas a respeito disso.
A responsabilidade de entidades como a Organização Mundial da Saúde foi grande no primeiro momento. Mas nada do que chegou até nós sobre o órgão deixou de passar pelo filtro dos jornais e agências internacionais de notícias, que cuidaram para tornar a ameaça do vírus algo atemorizador o suficiente. A maioria das pessoas não tem condições de julgar a veracidade das informações, mas, mais do que isso, quase ninguém se pergunta sobre o nível de certeza dos jornalistas, de suas fontes e do produto de suas apurações, ou seja, os relatos que chegam até nossos olhos. Afinal, a manipulação não se dá apenas na ocultação premeditada, mas na escolha de um ângulo cuja justificativa permanece oculta: quando a primeira agência de notícias decidiu monitorar caso a caso da doença covid-19, eles não precisaram explicar ao público o motivo dessa conduta, mas ela já indicava, de maneira pressuposta, uma gravidade sobre a qual naquele momento não havia qualquer informação. Mas é preciso conhecer minimamente a prática jornalística para entender que isso já é uma denúncia grave que mereceria questionamentos e investigação. Infelizmente, não há hoje meios de fazer os jornalistas prestarem esclarecimentos sobre suas condutas e são raros os tribunais que acataram responsabilização de jornais pelas consequências nefastas de uma cobertura.
Passado o primeiro momento informativo, criador de grande ansiedade social, o apoio declarado dos jornais às medidas ditadas pela OMS proporcionou uma reação em cadeia de decisões e declarações de políticos atentos às sugestões dos jornais. Afinal, o oportunismo político se vale justamente do clima favorável, mas não sem as justificativas dos profissionais que os rodeiam. A função mais característica da comunicação política e governamental é a de responder às demandas sociais, observadas através dos meios de comunicação, o que leva a atividade a buscar amoldar-se ao clima dos jornais e conectar-se ao sentido de valores da moda, mostrando estar atenta a normas como transparência, responsabilidade social, ambiental etc, na forma como eles aparecem na imprensa traduzidos em fatos e opiniões. É isso que compõe o conjunto dos tópicos mais óbvios dos manuais de comunicação pública e marketing público e eleitoral.
Esta foi a principal condição que fez com que a resposta das autoridades tenha sido imediata, já que os departamentos de comunicação convocaram entrevistas coletivas apenas para dizer que, sim, fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para acatar as novas determinações diante dos fatos narrados ostensivamente. Dadas essas condições, o noticiário televisivo e textual dava conta de uma conjuntura totalmente nova sendo formada, o que demandava ainda mais atenção e prontidão por parte dessas instituições e, consequentemente, da audiência ávida por novas informações que se apresentavam como de grande interesse e potencial gravidade. Semelhante às autoridades e políticos, o cidadão telespectador e leitor de jornais foi inserido em um ambiente social em que tudo era novo. O espectador das notícias foi levado a ver, ouvir e sentir tudo o que lhe era apresentado como novo, novíssimo e imprevisível, passando por momentos carregados de significado histórico e de grande abrangência, evocando a atenção pública e individual como um verdadeiro valor moral, uma responsabilidade coletiva que se deveria traduzir em cada indivíduo como um chamado.
Por sua vez, os jornais se viram dentro de uma formidável oportunidade de impulsionar uma credibilidade há muito decadente. Os níveis de atenção à mídia ampliaram-se incrivelmente e os editores e repórteres engajaram-se como verdadeiros promotores daquela euforia informativa que abria caminho para uma histeria em massa.
A situação de emergência foi decretada em todo o mundo e a OMS declarou o novo coronavírus como uma pandemia. O conceito de pandemia já havia sido modificado alguns anos antes, em 2012, durante a epidemia de gripe Influenza. Até aquele momento, uma pandemia era decretada apenas quando uma doença de gravidade considerável e um certo nível de letalidade se alastrasse por muitos continentes. O conceito foi alterado retirando-se a menção à letalidade, sendo suficiente que qualquer doença, de qualquer gravidade, alcançasse distâncias maiores.
Sem evidências
Inicialmente, muitos médicos rejeitaram a necessidade de uso de máscaras faciais, cuja ineficácia para proteção a vírus a medicina já conhecia. No entanto, a necessidade de mobilização social e conscientização de uma emergência, fez das máscaras um item necessário psicologicamente, o que foi admitido por autoridades. Logo no início da pandemia, o então secretário-geral da OMS disse que as máscaras não tinham grande efetividade e que poderiam representar, no máximo, uma falsa sensação de segurança. Coincidência ou não, foi mais ou menos a partir dessa declaração que o uso das máscaras começou a ser defendido abertamente e normas de autoridades sanitárias tornavam o item obrigatório. De repente, por toda a parte só se via pessoas com o rosto coberto e o alerta de alguns médicos foi simplesmente ignorado em nome da palavra dos especialistas consultados pelos jornais. A mudança comportamental venceu a medicina por uma aparente necessidade de alguns efeitos sociais, como a sensação de segurança e a criação de um clima permanente de alerta nas ruas, evocando ininterruptamente a emergência.
Leis municipais, estaduais e federais obrigaram o uso das máscaras por todo o país, mesmo que a eficácia tenha sido tema de debate contínuo na comunidade médica. As leis que impuseram o uso se basearam em estudos científicos inconclusivos e com lacunas consideráveis em um tema que contrariou a experiência médica de décadas.
No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomendava o uso de máscaras para pessoas saudáveis. A entidade estava embasada na experiência médica que vem desde a pandemia do Influenza, com o H1N1, e na própria função das máscaras cirúrgicas, tanto para doentes quanto para médicos. Diversos estudos, incluindo alguns feitos no Brasil mesmo durante o período da pandemia, demonstraram a falta de evidências que sustentam o uso indiscriminado de máscaras por pessoas saudáveis. Mas isso mudou repentinamente e apenas alguns poucos médicos mais experientes e confiantes na sua experiência e anos de estudo do que nas determinações repentinas de autoridades, criticaram a adesão que lhes parecia insustentável.
Conforme conversas que tive com alguns desses médicos, na época, máscaras cirúrgicas têm a função de proteger o ambiente cirúrgico de eventuais gotículas da equipe médica em uma situação que precisa ser mantida totalmente protegida de bactérias. Em um trabalho de 2008, publicado no American Journal of Infection Control, pesquisadores reprovaram as máscaras em testes qualitativos de respiração normal e de exercícios feitos. “Nenhum dos tipos de máscaras cirúrgicas apresentou desempenho de filtro adequado e características de ajuste facial para serem consideradas dispositivos de proteção respiratória”, concluiu o estudo. No entanto, ao longo de toda a pandemia (e também um pouco depois dela) podia-se ver pessoas correndo e praticando exercícios físicos ao ar livre utilizando máscaras faciais. As academias obrigaram o uso, aderindo à norma legal que se impunha por toda a parte.
Mas se nem mesmo as máscaras cirúrgicas possuem alguma proteção para quem usa, conforme apontaram estudos, imaginemos as de pano utilizadas por aí. Ao menos elas eram mais baratas e foram permitidas. Mas a questão é que mesmo em estudos mais recentes não foram encontradas evidências sobre a carga viral expelida e o potencial de transmissão. Uma baixa carga viral não infecta e nem gera doença, o que portanto indica não transmissão. Pessoas assintomáticas, por definição, não expelem saliva o tempo todo e se o fazem a carga viral é obviamente pequena, o que torna a transmissão assintomática uma quase loteria. No entanto, a mera possibilidade foi considerada suficiente para a manutenção de uma paranoia construída entre as pessoas.