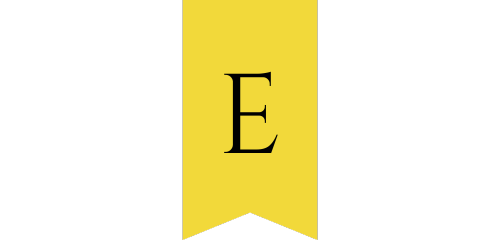Há algumas décadas, era comum que ao preencher um formulário se encontrasse um campo para preenchimento do “sexo”, no qual se devia escolher entre masculino ou feminino. Recentemente, porém, o equivalente a esse campo de preenchimento passou a ser substituído pela palavra “gênero”. Uma mudança simples, porém, tem razões nem sempre tão fáceis de entender. A longa discussão que guiou , e ainda guia, essa mudança de termos muitas vezes não é amplamente conhecida.
A palavra “gênero” sempre foi usada para se referir ao feminino e masculino, tanto em objetos quanto em palavras. Por definição, o gênero de uma palavra ou de um objeto pode mudar de acordo com preferências ou culturas. A palavra sangue é masculina em português, mas feminina em espanhol. Já o sexo, homem e mulher, não possui um termo cambiável, imperando em relação ao gênero uma coerência entre a natureza biológica e seus consequentes papeis sociais masculinos e femininos.
A escolha da palavra “gênero”, hoje, indica na verdade a adoção de um conjunto de teses desconstrutivas pouco conhecidas pela ampla maioria da população e serve como um recado cifrado à militâncias que ocupam certos espaços decisórios ou culturais. Para eles, a discussão já está definida há muito tempo e o ativismo de gênero, atualmente, domina ampla parcela da opinião pública, embora nem todos conheçam as suas raízes.
O uso da palavra “gênero” como um conceito socialmente construído e distinto do sexo biológico começou a ser discutido internacionalmente na década de 1950 e 1960, principalmente no contexto do movimento feminista e dos estudos de gênero.
A consolidação do termo como uma categoria de análise nas ciências sociais e nas políticas públicas ocorreu principalmente a partir dos anos 1970 e 1980, em meio às lutas políticas e ideológicas por direitos das mulheres, minorias sexuais e de outras categorias marginalizadas.
Essa mudança de perspectiva, trazida por ativistas ligados a crenças muitas vezes explícitas em visões feministas de origem marxista, também se deu em função de uma crítica ao “determinismo biológico” e ao chamado “essencialismo de gênero”, que, segundo eles, naturalizavam as diferenças entre homens e mulheres e reforçavam as desigualdades de gênero. Como forma de lutar contra essa suposta desigualdade, portanto, os ativistas buscaram retratar essas diferenças entre homem e mulher como formas mais perversas e desiguais de relação, em analogia à luta de classes marxista.
O uso do termo “gênero” como uma categoria socialmente construída permitiu um maior aprofundamento nas análises das questões relacionadas à identidade, à sexualidade, e uma aproximação com uma nova concepção sobre direitos humanos. Hoje em dia, é comum utilizar a palavra “gênero” para se referir ao papel social e cultural que as pessoas desempenham em função de sua identidade de gênero, que pode ou não estar alinhada com o sexo biológico.
Atualmente, portanto, o uso da palavra gênero faz parte do jargão de um tipo de luta política promovida por grupos e movimento, em geral financiados por entidades filantrópicas, para ativismos em defesa de concepções revolucionárias, cujo objetivo é, segundo eles, “superar” o uso binário do termo. Na prática, essa ideologia busca desassociar o sexo biológico com o gênero, duas coisas tradicionalmente associadas.
Em suas justificativas, os movimentos questionam o uso do termo como uma “forma binária e essencialista” de entender o gênero, e defendiam que a identidade de gênero seria uma “construção social e cultural”, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Esses movimentos passaram a usar o termo “gênero” para se referir não apenas à divisão binária entre homens e mulheres, mas também aos aspectos subjetivos e não binários da identidade de gênero, como a identidade de gênero não conformista ou transgênera.
Hoje em dia, o termo “gênero” é amplamente utilizado para se referir às questões de identidade de gênero e à diversidade sexual, e sua definição tem se expandido para incluir uma ampla gama de identidades de gênero e expressões de gênero, que vão além do binarismo tradicional de homem e mulher. Para os seus defensores, essa mudança de sentido reflete uma maior conscientização e aceitação da diversidade de gênero e da importância de respeitar as identidades de gênero das pessoas.
A “teoria de gênero” e a esquerda
A “teoria de gênero”, também chamada de ideologia de gênero, é um campo de estudos que abriga ativismos de várias ideologias ligadas à esquerda e progressistas, utilizando-se de disciplinas como a sociologia, a psicologia, a antropologia, a filosofia, entre outras. Dessa forma, uma série de intelectuais contribuíram para essa teoria e defendem a ideia de que a identidade de gênero não é necessariamente ligada à anatomia biológica das pessoas. Nem todos os acadêmicos concordam, porém, que se trate de uma teoria. Alguns preferem o termo ideologia, já que as suas teses contam com apropriações e aplicações políticas bastante claras.
Uma das autoras mais influentes na teoria de gênero é Judith Butler. Em sua obra “Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity” (1990), ela argumenta que o gênero não é uma propriedade inata de uma pessoa, mas sim um desempenho social que é repetido e reforçado por meio de práticas culturais. Butler afirma que a identidade de gênero é construída por meio de normas de gênero que são impostas pela sociedade, e que essas normas podem ser subvertidas por meio da expressão de gênero não conformista.
Butler é uma teórica queer e feminista. Sua obra vai na direção da desconstrução de normas de gênero e a subversão das identidades sexuais e de gênero normativas. Sua abordagem tem sido utilizada como uma crítica ao “patriarcado” e à “heteronormatividade”, termos usados pela esquerda contemporânea para designar o que considera instrumentos de manutenção do poder em sociedades capitalistas ocidentais.
Outro autor importante na teoria de gênero é Michel Foucault, autor amplamente lido em praticamente todos os cursos de ciências humanas e humanas aplicadas. Em seu livro “História da Sexualidade, Vol. 1: A vontade de saber” (1976), ele argumenta que a sexualidade seria uma construção social que é moldada por relações de poder. Foucault afirma que o gênero é uma forma de poder que é exercida sobre os indivíduos por meio de normas sociais, que determinam o que é considerado “normal” ou “anormal” em relação à identidade de gênero.
Muito usado pela esquerda política para a crítica dos conceitos naturais na sociedade, Foucault se concentrou especialmente em relação às normas culturais e sexuais, sobre as quais traz a analogia do binarismo marxista burguesia e proletariado, opressor e oprimido, implícito em suas “relações de poder”. Por isso, suas obras tratam da suposta opressão e da dominação nas sociedades capitalistas ocidentais, mas adaptadas aos costumes sexuais.
Igualmente ligada à esquerda política e feminista, Anne Fausto-Sterling é outra autora que contribuiu para a teoria de gênero. Em seu livro “Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality” (2000), ela argumenta que a anatomia sexual não é binária, mas sim uma continuidade que pode ser dividida em diversas categorias. Ela defende que a identidade de gênero não é determinada pela anatomia sexual, mas sim por fatores sociais e culturais que influenciam a construção da identidade de gênero. Sterling critica as normas culturais e as percepções dominantes que muitas vezes reforçam a hierarquia e a desigualdade entre os gêneros.
A imensa maioria dos autores que contribuem para a “teoria de gênero” possuem uma visão crítica das estruturas sociais e políticas existentes e a uma defesa de políticas mais igualitárias e inclusivas para minorias sociais, como mulheres, pessoas LGBTQ+ e outros grupos vistos como historicamente marginalizados. Embora haja autores considerados de direita que também defendem abordagens não binárias e críticas às normas de gênero, essa perspectiva está ligada a uma visão revolucionária que propõe remodelar a sociedade para a construção de novos papeis.
O lastro ideológico nesta teoria é bastante óbvio e remete a publicações clássicas do marxismo, como a crítica à instituição da família em seus moldes naturais. Friedrich Engels, um dos principais teóricos do marxismo, discutiu amplamente o papel da família na sociedade capitalista em sua obra “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado” (1884).
Engels argumentava que a família monogâmica era uma invenção da sociedade capitalista, que surgiu para proteger a propriedade privada. Antes do surgimento da propriedade privada, as sociedades eram mais igualitárias e não havia necessidade de uma família monogâmica para garantir a paternidade das crianças. No entanto, com o surgimento da propriedade privada, a família monogâmica se tornou uma instituição importante para garantir a transferência de propriedade de uma geração para outra.
Engels argumentava que a família monogâmica também desempenhava um papel na opressão das mulheres. Ele argumentava que a monogamia restringia a liberdade sexual das mulheres e as subordinava aos homens, que se tornavam proprietários das esposas e filhos. Além disso, Engels argumentava que a família nuclear privada era isolada do resto da sociedade e era o lugar onde as relações mais íntimas de dominação e exploração eram mantidas.
Assim, Engels via a família como uma instituição que refletia e sustentava as relações de poder e exploração que caracterizavam a sociedade capitalista. Ele argumentava que a libertação das mulheres e a transformação da sociedade só seriam possíveis com o fim da propriedade privada e a criação de uma sociedade socialista.
Essa visão é encontrada com bastante frequência em intelectuais feministas ao longo da história, testemunhando uma linha evolutiva bastante coerente até a contemporânea ideologia de gênero.
Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo também foram importantes feministas marxistas que criticaram os papéis de gênero na sociedade. A marxista russa, Alexandra Kollontai (1872-1952) defendia a liberação das mulheres do trabalho doméstico não remunerado e a criação de instituições sociais para cuidar das crianças.
A alemã Clara Zetkin (1857-1933) liderou o movimento sufragista alemão e foi uma das fundadoras do Dia Internacional da Mulher. Mais conhecida do grande público, a polonesa Rosa Luxemburgo (1871-1919) foi uma das líderes do Partido Social-Democrata da Alemanha e uma das fundadoras do Partido Comunista da Alemanha. Ela argumentava que a luta pelos direitos das mulheres era fundamental para a revolução socialista.
Grupos organizados e o financiamento
Existem hoje muitas organizações não-governamentais (ONGs) que defendem a chamada “diversidade de gênero” e, na prática, trabalham para promover os novos comportamentos, dando-os visibilidade de forma propagandística. Vinculadas à teoria ou ideologia de gênero, essas organizações se alinham tematicamente a diferentes áreas, como educação, saúde, direitos humanos e justiça social.
Elas participam de debates importantes representando a sociedade civil, embora não contem com o apoio da ampla maioria da sociedade, conforme a própria justificativa do seu trabalho, baseada na suposta necessidade de conscientização para o problema.
Algumas das principais ONGs que atuam nessa área incluem a Amnesty International, a Human Rights Watch, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) e a Rede Trans Brasil.
Em seus estatutos e sites oficiais, as ONGs que defendem a ideologia de gênero geralmente alegam que são mantidas com o financiamento de diversas fontes, incluindo doações de indivíduos, empresas, fundações filantrópicas, organizações internacionais e governos. Algumas organizações também realizam campanhas de arrecadação de fundos e eventos para levantar recursos. Na prática, porém, grande parte dos seus recursos vêm das fundações filantrópicas.
A Fundação Ford é uma das maiores fundações filantrópicas do mundo e tem apoiado organizações que trabalham pelos direitos das mulheres e das pessoas LGBTI+ há décadas. A Fundação Open Society, fundada pelo empresário e filantropo George Soros, tem apoiado uma ampla gama de organizações em todo o mundo, incluindo aquelas que trabalham pelos direitos das pessoas LGBTI+ e pela diversidade de gênero. Outras fontes de recursos para esses grupos são a Fundação Arcus, a Fundação Astraea e a Fundação Elton John.
Bibliografia de referência sobre o tema:
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.
Connell, R. W. (2002). Gender. Cambridge: Polity Press.
Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York: Basic Books.
Rubin, G. (1975). The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex. In R. Reiter (Ed.), Toward an Anthropology of Women (pp. 157-210). New York: Monthly Review Press.
Scott, J. W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review, 91(5), 1053-1075.
Stoller, R. J. (1968). Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. New York: Science House.
Wexler, L. M. (2012). The History of Gender in America. Santa Barbara, CA: Greenwood.
Williams, C. L. (2013). Gender: A Sociological Reader. New York: Routledge.