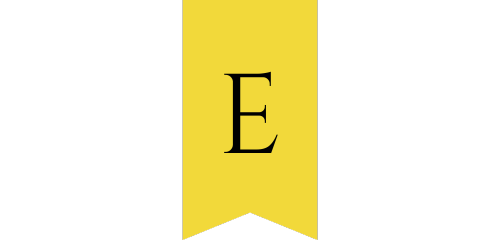A Primeira Reestruturação Governamental Impulsionada por TI – O Caso Musk e os Riscos de uma Autocracia Digital
Precedentes Históricos e Literários:
A ideia de que corporações privadas possam exercer influência sobre o Estado não é nova. A Companhia das Índias Orientais, no século XVII, já operava como um “Estado dentro do Estado”, controlando exércitos, cobrando impostos e administrando territórios em nome da Coroa Britânica. No entanto, o que diferencia o caso de Elon Musk é a escala e a natureza digital dessa intervenção. Como observou o historiador Niall Ferguson em The Ascent of Money, o controle de infraestruturas críticas sempre foi um mecanismo de poder – das estradas romanas às ferrovias do século XIX. Hoje, a infraestrutura é digital, e seu controle permite não apenas influência, mas vigilância e manipulação em tempo real.
A aquisição de plataformas como o Twitter (rebatizado como X) e a integração de sistemas de IA em contratos governamentais lembram a estratégia dos robber barons do século XIX, como John D. Rockefeller e J.P. Morgan, que consolidaram monopólios sobre petróleo e ferrovias. Musk, porém, opera em um campo mais perigoso: a informação. Seu acesso a dados governamentais, como revelado no caso do sistema “GSAi”, ecoa a relação entre a IBM e o regime nazista na década de 1930, quando a tecnologia de cartões perfurados foi usada para otimizar a máquina burocrática do Holocausto – um paralelo explorado por Edwin Black em IBM and the Holocaust. A diferença crucial é que, hoje, a automação e a IA multiplicam exponencialmente o potencial de abuso.
Em seu livro 1984, George Orwell descreve um regime onde “o Grande Irmão” controla a verdade através da tecnologia. Já em O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, o controle é exercido não por coerção, mas por distração e dependência tecnológica. Ambas as distopias se tornam metáforas úteis para entender os riscos da gestão estatal terceirizada: Musk não precisa ser um ditador clássico; basta que seus sistemas sejam indispensáveis para a governança.
A capacidade de influenciar mercados com dados privilegiados remonta ao escândalo da South Sea Bubble (1720), quando especuladores corromperam o Parlamento britânico para inflar ações de uma empresa colonial. Hoje, como alerta a economista Mariana Mazzucato em O Estado Empreendedor, a privatização da inovação permite que lucros sejam privatizados e riscos socializados. Se Musk tem acesso a contratos federais antes mesmo de serem públicos, como garantir a lisura dos mercados?
A extração de dados governamentais por entidades privadas evoca o panóptico de Jeremy Bentham, teorizado por Michel Foucault em “Vigiar e Punir” como um modelo de controle social. A diferença é que, na era digital, o panóptico não tem paredes: empresas como a Palantir (parceira da Globo em análise comportamental de interações com o público e de Musk em projetos de defesa) já demonstraram como dados podem ser usados para vigilância preditiva, como revelado no caso do ICE (Imigração e Alfândega dos EUA) em 2019.
A concentração de poder tecnológico em mãos privadas ameaça o contrato social descrito por Thomas Hobbes em Leviatã, onde o Estado existe para evitar a “guerra de todos contra todos”. Se funções estatais são cooptadas por corporações, quem garante os direitos dos cidadãos? A filósofa Hannah Arendt, em As Origens do Totalitarismo, alertou que a burocracia desumanizada é um terreno fértil para tiranias. No caso de Musk, a burocracia não é apenas desumanizada – é algorítmica.
A ideia de um “governo paralelo” já foi exaustivamente explorada na literatura. Em O Processo de Franz Kafka, o protagonista é perseguido por um sistema judicial opaco e inatingível. Analogamente, sistemas de IA como o “GSAi” podem criar uma tecnoestrutura inacessível ao cidadão comum, onde decisões são tomadas por algoritmos inescrutáveis – um fenômeno que Cathy O’Neil, em Armas de Destruição Matemática, chama de “autoritarismo algorítmico”.
Historicamente, a privatização de infraestruturas críticas já mostrou seus perigos. Nos anos 1980, a desregulamentação de telecomunicações nos EUA levou a monopólios como o da AT&T, que só foi fragmentada após décadas de abusos. Agora, porém, a infraestrutura é digital, e sua consolidação pode ser irreversível. Como escreveu Yuval Noah Harari em 21 Lições para o Século 21, “quem controla os dados controla o futuro da humanidade”.
A história oferece lições claras. O principal pretexto para fomentar a Revolução Americana surgiu do combate aos abusos de uma corporação (a Companhia das Índias Orientais, no caso do Boston Tea Party). A literatura, de 1984 a “Nós”, de Yevgeny Zamyatin, nos alerta sobre a fusão entre tecnologia e autoritarismo.
A utilização de tecnologias deve priorizar a descentralização do poder. Caso contrário, estaremos caminhando para um mundo onde, nas palavras de Shakespeare em A Tempestade, “o passado é prólogo” – e o prólogo já foi escrito por tiranos de outros séculos.
Um antídoto?
Uma possibilidade de contrapor o surgimento de tal tecnocracia poderia partir, por exemplo, da atuação do laicado católico para combater ameaças à soberania e à liberdade. Ao invés de concentrarem-se em investidas contra o Papa e à hierarquia constituída, poderiam seguir o exemplo de Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), que começou essa missão ao denunciar o avanço de ideologias coletivistas no século XX – tanto ideologia Fascista quanto Comunista. Sua obra Revolução e Contra-Revolução analisa como movimentos revolucionários buscam subverter a ordem natural através de etapas graduais – um processo que guarda semelhanças com a “revolução digital” em curso.
A TFP, sob liderança de Dr Plínio, destacou-se na luta contra a estatização de terras e a reforma agrária comunista, defendendo a propriedade privada como direito natural. Hoje, o conceito de “propriedade” expandiu-se para incluir dados pessoais e autonomia digital. Se, como ensina a encíclica Rerum Novarum (1891), “o direito à propriedade é inviolável”, então a exploração corporativa de dados governamentais – muitas vezes coletados sem consentimento – configura uma violação moderna desse princípio. A TFP, em seu combate ao coletivismo, serviria como modelo para movimentos que resistem à apropriação de dados por oligopólios tecnológicos. A TFP ficou conhecida por campanhas públicas para alertar sobre riscos à liberdade.
Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, alertou que a busca desordenada pelo poder temporal leva à corrupção da Civitas Terrena (Cidade dos Homens). Para ele, governantes que ignoram a virtude tornam-se ladrões em grande escala. A fusão entre poder estatal e interesses corporativos, como no caso Musk, atualiza essa crítica: quando a infraestrutura governamental é controlada por entidades que priorizam o controle sobre o bem comum e à liberdade, a sociedade degenera em uma “Civitas Digitalis” – uma cidade onde cidadãos são reduzidos a dados e a autoridade legítima é substituída por contratos de TI.
A TFP demonstra que o laicado, organizado e doutrinado, pode ser uma força potente na defesa da liberdade. Como escreveu Plínio Corrêa de Oliveira: “A Revolução é filha da fraqueza dos bons, não da força dos maus”. Na era digital, a passividade diante da captura tecnocrática do Estado seria uma forma moderna dessa “fraqueza”.
Como ensina São Paulo, “porque nós não temos que lutar (somente) contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades (do inferno), contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos (espalhados) pelos ares” (Ef 6:12). Se os mártires romanos venceram leões, nossa batalha pode desarmar os algoritmos que ameaçam devorar a liberdade. A tradição católica, desde os Padres e Santos da Igreja até os leigos heroicos, clama por uma resistência ativa – não por revolução, mas por restauração da ordem natural.
Deixo claro que aqui não faço um exercício de futurologia, mas um alerta baseado em padrões históricos e literários. A questão que resta é: aprenderemos com os erros do passado ou seremos reféns de uma Nova Ordem Digital?